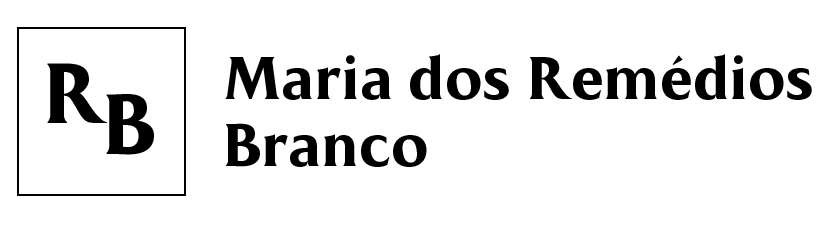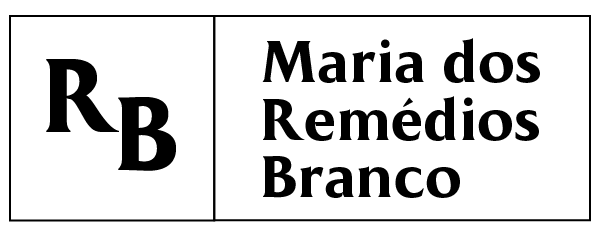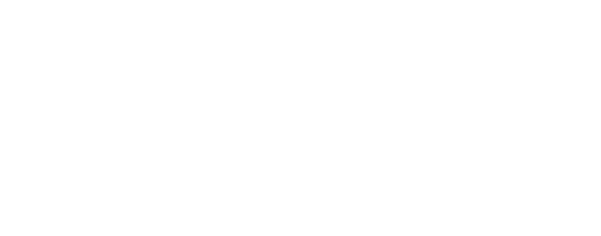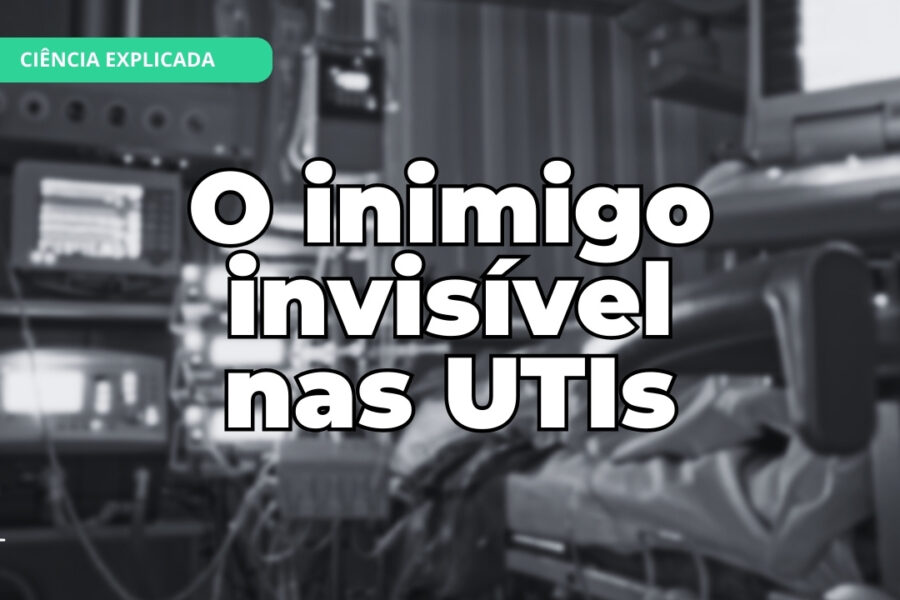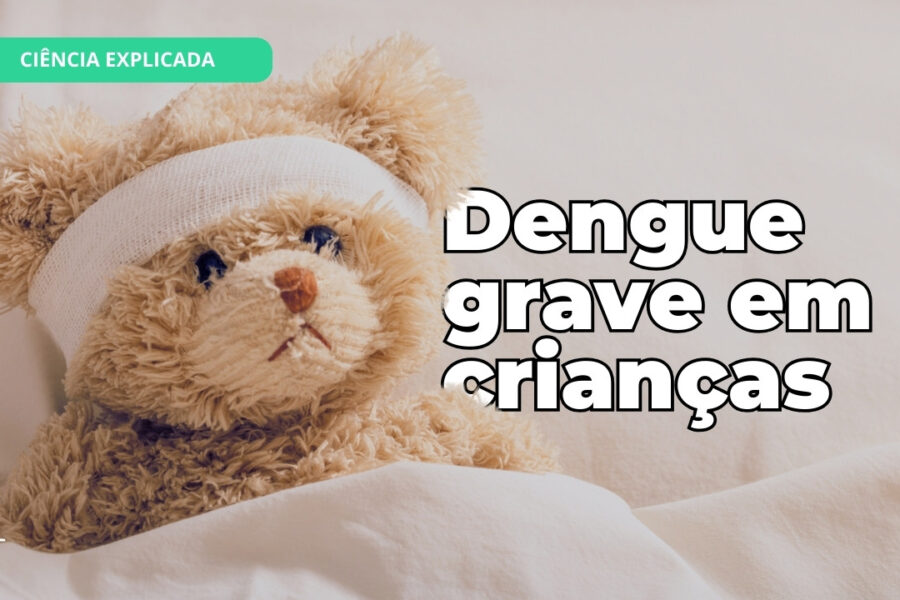Embora seja uma doença descrita há mais de um século e de tratamento simples, o beribéri continua a aparecer em regiões do Brasil onde o acesso à alimentação adequada e aos serviços de saúde é limitado. Dois estudos recentes realizados por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) analisaram essa persistência a partir de diferentes ângulos.
Utilizando a mesma base de dados, ambos investigaram os casos notificados entre 2013 e 2018 e chegaram a conclusões que se complementam: o primeiro mapeou a distribuição territorial da doença, com foco nas populações indígenas da Amazônia Legal; o segundo comparou as características dos casos entre indígenas e não indígenas, revelando desigualdades marcantes no perfil clínico, nas condições de vida e no acesso à saúde.
Publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, os artigos reforçam que o beribéri, apesar de prevenível, segue presente em situações de vulnerabilidade extrema — e que os povos indígenas estão desproporcionalmente expostos à doença por razões estruturais, como pobreza, dieta monótona e exclusão histórica das políticas públicas.

Padrões geográficos e repetição de casos em áreas vulneráveis
O beribéri é uma doença causada pela deficiência de tiamina, também conhecida como vitamina B1 — um nutriente essencial para o funcionamento dos nervos, músculos e do sistema cardiovascular. A tiamina está presente em alimentos como grãos integrais, carnes, legumes e algumas sementes. Quando a dieta é pobre em variedade ou composta principalmente por alimentos industrializados e processados, a ingestão dessa vitamina pode ser insuficiente.
A falta de tiamina leva a sintomas como fraqueza, inchaço (edema), dificuldade para andar, alterações cardíacas e, em casos mais graves, pode ser fatal se não tratada rapidamente com suplementação.
Diante desse quadro clínico e nutricional, as pesquisadoras Anne Karine Martins Assunção, Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco e colegas da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) buscaram entender onde e por que a doença ainda persiste no Brasil. O estudo Beriberi in Brazil: A Disease That Affects Indigenous People, publicado em 2021 na revista científica Food and Nutrition Bulletin, analisou as notificações de beribéri registradas pelo Ministério da Saúde de 2013 a 2018.
Mais do que identificar o número de casos, os autores buscaram entender onde a doença continua ocorrendo e quais grupos são mais afetados. Ao relacionar esses dados com a localização de terras indígenas, foi possível observar um padrão: os casos estavam concentrados em três estados da Amazônia Legal — Maranhão, Tocantins e Roraima.
Ao todo, foram registrados 414 casos suspeitos no período, dos quais 210 envolviam indígenas. Embora o volume de notificações não permita estimar com precisão a extensão do problema, os registros revelam que o beribéri segue presente em territórios com dificuldades históricas de acesso à saúde e à alimentação adequada. A maioria das ocorrências foi registrada em municípios com indicadores sociais baixos e serviços de atenção básica limitados.
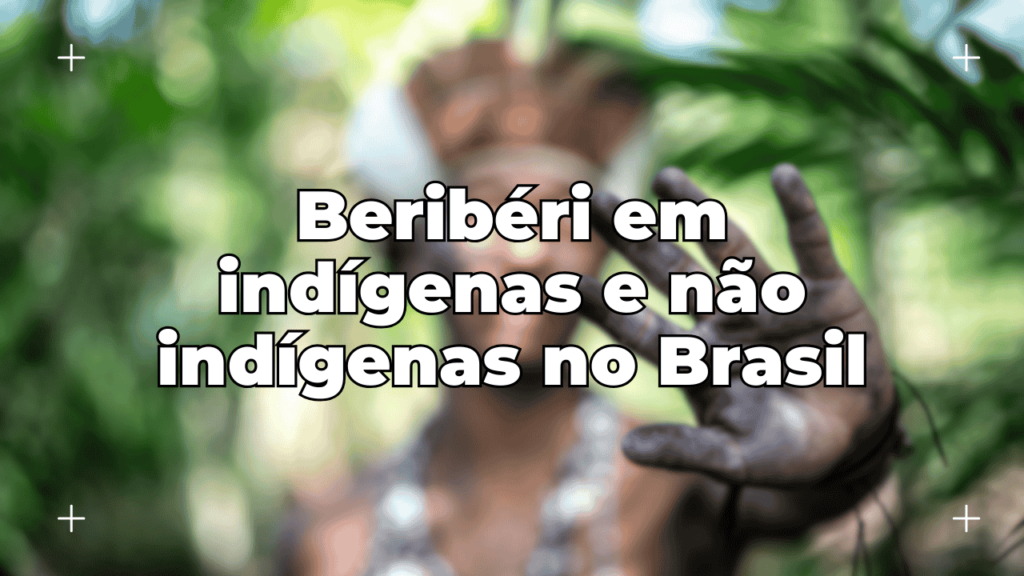
Quem são os mais afetados: diferenças entre indígenas e não indígenas
Complementando a análise territorial, um segundo estudo examinou o perfil dos pacientes diagnosticados com beribéri no Brasil de 2013 a 2018. Publicado em 2023 na Revista Brasileira de Epidemiologia, o artigo de Anne Karine Martins Assunção, Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco e outros autores comparou os casos entre indígenas e não indígenas, utilizando a mesma base de dados do Ministério da Saúde. O objetivo foi entender como características sociais, ocupacionais e clínicas se distribuem entre os dois grupos.
Os resultados reforçaram a desigualdade: embora representem menos de 0,5% da população brasileira, os indígenas concentraram metade dos 414 casos notificados no período. Quando se calcula a taxa por habitante, a disparidade é ainda mais evidente — 25 casos por 100 mil indígenas, contra apenas 0,10 por 100 mil não indígenas.
Além da maior frequência da doença, o estudo observou que os indígenas afetados tendiam a ser mais jovens, com maior frequência de homens, e viviam em condições de vida marcadas por trabalho braçal intenso e consumo regular de bebidas alcoólicas fermentadas tradicionais, como o caxiri.
Esses fatores aumentam a demanda metabólica por tiamina e podem agravar o risco de deficiência. Os sintomas predominantes incluíram fraqueza, inchaço (edema) e dificuldade de locomoção. A maioria dos casos foi tratada com suplementação oral da vitamina.
Embora o número de hospitalizações e óbitos tenha sido maior entre os não indígenas, os autores chamam atenção para possíveis desigualdades no acesso à rede de saúde, que podem dificultar o diagnóstico e o registro completo dos casos entre os povos indígenas.
O estudo conclui que o beribéri afeta desproporcionalmente essa população e defende a necessidade de estratégias específicas de prevenção, diagnóstico precoce e promoção da saúde nutricional em territórios tradicionais.
Insegurança alimentar e dieta pobre favorecem avanço da doença
Os resultados apresentados nos dois estudos também se alinham ao que vem sendo discutido na literatura científica internacional sobre deficiências nutricionais em populações vulneráveis. Um artigo publicado em 2018 por Whitfield e colaboradores, na Annals of the New York Academy of Sciences — uma das revistas científicas mais tradicionais dos Estados Unidos — defende que a carência de tiamina deve ser tratada como uma preocupação global de saúde pública.
O trabalho alerta que o beribéri continua ocorrendo em comunidades pobres de diversas partes do mundo, sobretudo onde a alimentação é baseada em poucos alimentos processados, com baixo valor nutritivo e escassa diversidade. Nessas situações, mesmo uma dieta aparentemente suficiente em calorias pode provocar deficiências graves.
No Brasil, essa realidade se manifesta de maneira particularmente preocupante em áreas rurais, periféricas e indígenas. O Relatório Técnico nº 1/2023 – Saúde dos Povos Indígenas e Quilombolas, elaborado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), aponta a insegurança alimentar e a exclusão histórica como fatores centrais para o adoecimento evitável dessas populações.
O documento mostra que muitos territórios indígenas convivem com a perda de práticas alimentares tradicionais e a dependência de alimentos industrializados de baixo valor nutricional, agravada por falhas na entrega de políticas públicas básicas — como o acesso regular à água potável, saneamento e serviços de saúde.
Esses contextos ajudam a explicar por que doenças como o beribéri, muitas vezes consideradas superadas em áreas urbanas ou nos centros médicos, continuam a surgir em territórios onde as condições de vida seguem precárias. As notificações nacionais analisadas pelos dois artigos reforçam essa realidade e propõem que o beribéri seja visto não apenas como um problema médico isolado, mas como um indicador das desigualdades sociais, alimentares e estruturais ainda presentes no país.
Um alerta sobre como e onde a fome persiste
Ao evidenciar a presença do beribéri em aldeias da Amazônia Legal e as diferenças marcantes entre os grupos afetados, os dois estudos reforçam que a fome no Brasil não se dá apenas pela ausência de alimentos, mas pela qualidade e monotonia das dietas.
Em muitas áreas atingidas, a base alimentar depende quase exclusivamente de arroz branco e farinha, alimentos pobres em tiamina quando não enriquecidos. Ao mesmo tempo, a precariedade dos serviços de saúde dificulta o diagnóstico, o tratamento e até mesmo o registro dos casos.
Por isso, os autores defendem que a doença volte ao radar das autoridades de saúde, especialmente em programas voltados para populações tradicionais. Para Maria dos Remédios Branco, esse reconhecimento é urgente:
“O beribéri precisa ser encarado como um indicador social. Ele não afeta todas as pessoas: afeta quem está em situação de vulnerabilidade, quem foi deixado à margem das políticas públicas. Trazer luz para isso é, também, defender o direito à saúde e à alimentação.”
Essa não é uma linha de pesquisa recente para a médica infectologista. Em 2006, Maria dos Remédios Branco participou da investigação sobre um surto da doença no Maranhão, que deu origem ao primeiro estudo epidemiológico sobre o tema no estado, publicado em 2011.
Os dois artigos mais recentes aprofundam esse trabalho, com diferentes abordagens metodológicas, e se somam a uma série de iniciativas que buscam compreender as condições de vida e saúde de comunidades indígenas no Brasil. Ao trazer evidências atualizadas sobre a distribuição e o perfil dos casos de beribéri no Brasil, os estudos oferecem subsídios importantes para que políticas públicas de saúde e nutrição possam ser mais bem direcionadas — especialmente em territórios onde a fome ainda assume formas silenciosas, mas persistentes.
📄 Sobre os artigos
1. Beriberi in Brazil: A Disease That Affects Indigenous People
Publicado em: Food and Nutrition Bulletin, vol. 42, n. 3 (2021)
Autores: Anne Karine M. Assunção, Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco, Fernanda Barros, Luís Inácio Rêgo e Maria do Perpétuo Socorro A. Pinto
Resumo: O artigo analisa a distribuição geográfica dos casos de beribéri no Brasil entre 2013 e 2018, com foco especial na população indígena e na região da Amazônia Legal.
Link: Acessar artigo
2. Comparação dos casos de beribéri entre indígenas e não indígenas, Brasil, 2013 a 2018
Publicado em: Revista Brasileira de Epidemiologia, vol. 26 (2023)
Autores: Anne Karine M. Assunção, Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco, Fernanda Barros, Luís Inácio Rêgo e Maria do Perpétuo Socorro A. Pinto
Resumo: O estudo compara os casos de beribéri entre indígenas e não indígenas, evidenciando diferenças no perfil dos pacientes e na exposição a fatores de risco.
Link: Acessar artigo
Referências
PADILHA, Elisabete M.; RÊGO, Luís Inácio M. A.; BRANCO, Maria dos Remédios F. C.; et al. Perfil epidemiológico do beribéri notificado de 2006 a 2008 no Estado do Maranhão, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 3, p. 449–459, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0102-311X2011000300005. Acesso em: 23 abr. 2025.
WHITFIELD, Kimberly C.; BOURASSA, Megan W.; ADAMOLEKUN, Bamidele; et al. Thiamine deficiency disorders: diagnosis, prevalence, and a roadmap for global control programs. Annals of the New York Academy of Sciences, Nova York, v. 1430, n. 1, p. 3–43, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1111/nyas.13919. Acesso em: 23 abr. 2025.
INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE (IEPS); INSTITUTO VEREDAS; UMANE. Saúde dos povos indígenas e quilombolas. Relatório Técnico nº 1/2023. Série Agenda Mais SUS. São Paulo: IEPS, 2023. Disponível em: https://agendamaissus.org.br/wp-content/uploads/2023/06/ieps-boletim01-saude-povos-indigenas.pdf. Acesso em: 23 abr. 2025.